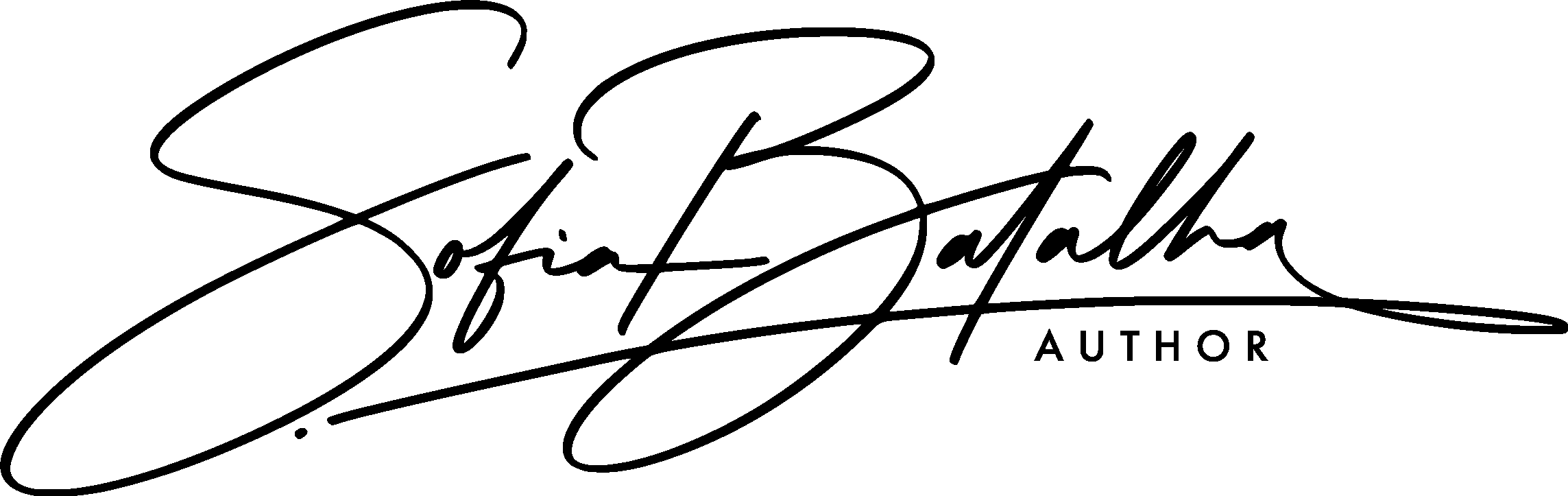Auto-colonização europeia – as histórias invisíveis
Para trabalhar no sentido da descolonização, precisamos primeiro de reconhecer e desembaraçar as muitas formas como somos todos colonizados.
A auto-colonização europeia é uma narrativa de domesticação e já passou muito tempo desde o seu início. Esta realidade de separação, destruição, absolutismo e violência têm vindo a ser praticada há milénios. No entanto, o que mais desejamos é um longo e profundo abraço que novamente nutra as nossas almas, sinalizando que somos suficientemente corajosos no “não saber” – mantendo-nos livres, vivendo nutridos e de forma integral.
Assim, antes de pensarmos na “liberdade colonial”, temos de nos sentir presos primeiro. Devemos notar que a colonização não é algo feito a outros há muito tempo e noutro lugar, mas uma mentalidade que recriamos diariamente, apenas por acordar de manhã no contexto da sociedade ocidental moderna.
Num sentido mais profundo relaciona-se com valores e crenças fundamentais sobre a realidade e a própria vida.
Ao não reconhecermos estas tensões ou restrições culturais, não nos agrada o convite para abalar as narrativas estabelecidas.
A descolonização é de facto um esforço contínuo e intencional tanto na vida pessoal e colectiva. A colonização tornou-nos infelizes e sem ferramentas para lidar com a ferida de ruptura, porque uma das suas formas é desligar as respostas sábias e maduras aos medos profundos de morte ou dor.
Ao sermos colonizados, escolhemos uma identidade de entorpecimento, uma espécie de anestesia que evita o trágico caminho diante dos nossos olhos. Não queremos reconhecê-lo ou vê-lo. Mas sentimo-lo na carne e ossos, num formigueiro de desespero da incerteza.
Uma das formas como o discerni em mim, é o esquecimento de histórias e a pressão para seguir cegamente uma narrativa pura, geralmente o conto científico moderno ocidental -mas não só, pois muitas das narrativas alternativas são construídas exactamente o mesmo paradigma absolutista.
Esta “narrativa pura”, a ÚNICA verdade, relaciona-se com o absolutismo insidioso, um ponto de vista monolítico e empobrecido que anula a riqueza da diversidade e subjectividade – superficializando o olhar moderno.
O colonialismo é o genocídio (e ecocídio) de histórias disfarçado como a unificação da e para a verdade, mas violentamente tornando mudo tudo o que se atravesse no seu implacável caminho de progresso tecnológico e transcendência moral.
Por conseguinte, vivemos sobre os restos de histórias perdidas e mortas, as antigas, as perspectivas inferiores e as sabedorias negligenciadas.
Os mitos que nos prendem ao padrão imanente e emergente da criação envolvente.
As narrativas que nos mantêm humildes num mundo mais do que humano.
As histórias que falam não só de produção ou de soluções objectivas, mas também as que dão sentido ao lugar, à morte ou à decomposição. Os contos que declaram a dor e a morte como parte da criação, da regeneração e da própria vida.
Mas só a modernidade poderia considerar este cemitério de histórias como um lugar morto, pois esqueceu-se de como ouvir as subtilezas. Cada história é uma semente num terreno fértil de possibilidades, onde vozes antigas que ainda reverberam e chamam, tecem nos ossos através imaginação generativa.
Quando habitamos em factos, isolados em traumas colectivos, orgulhosamente independentes, negligenciando a tristeza e o sofrimento de viver num mundo moribundo, vivemos aprisionados. Divididos do núcleo criativo de nós próprios, o nosso eu-cósmico-telúrico danificado e negligenciado.
Mas continuamos a insistir em encaixar num sistema insustentável, mutilando os sussurros da alma, avançando com toda a energia de vida para quantificar a felicidade. Podemos até ficar zangados quando outras narrativas sussurram de volta num diálogo, pois isso desafia-nos. Isso é um absurdo! Dizemos. Isso não é real! Pensamos. Reclamando a nossa própria prisão uma e outra vez.