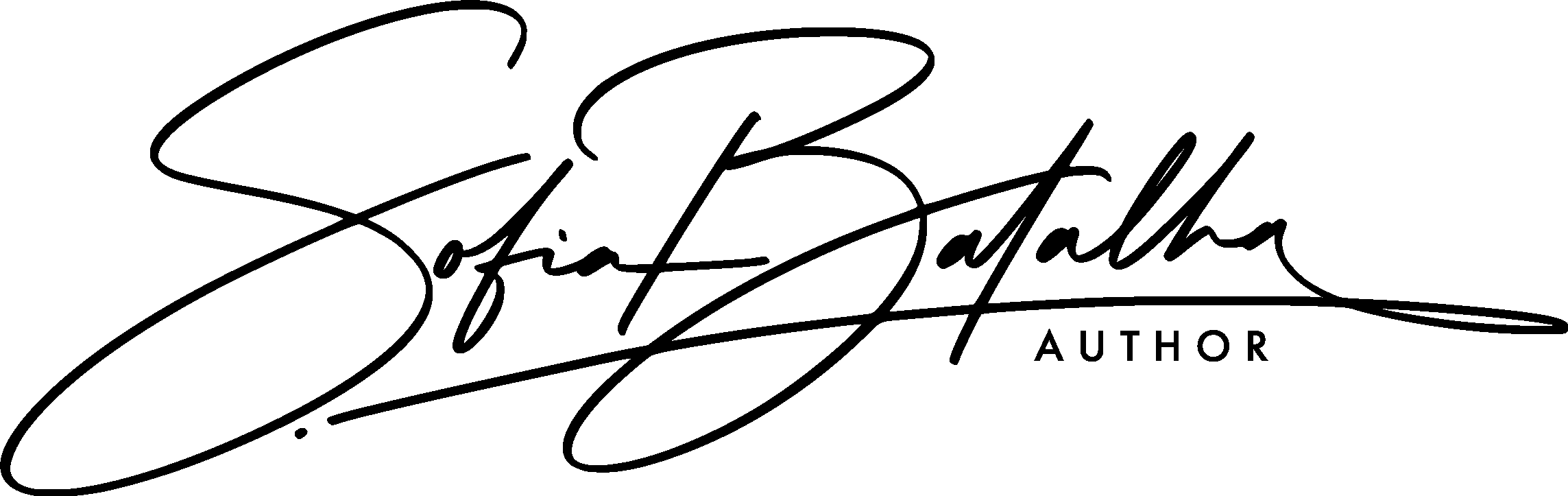Somos os lugares que habitamos. Trazem-nos histórias, presença e pertença. Caminhamos sobres eles, banhamo-nos nas suas águas, nutrimo-nos do seu alimento. A partir deles criamos e partilhamos memórias que sustêm a cultura e a comunidade. Que dão chão a quem somos. Trazem-nos significado e identidade.
Num momento em que a economia e política globais anseiam por mais, mais energia, mais matéria prima, mais e mais e mais, ficamos a achar que os lugares não são mais além de meros recursos, meros cenários de postal abstractos. Uma bonita paisagem deixou de ter morada, de ser um lugar, pois pode ser, eventualmente, em qualquer sítio, ou em lugar nenhum.
Lá longe, algures, há poluição e extração, mas não aqui. Lá longe, onde eu não vejo as feridas e fragmentos deixados pela necessidade voraz de consumo a curto prazo, a mesma que tenta suprimir vazios incomensuráveis. Lá longe, porque eu aqui só estou a viver a minha vida.
Numa realidade sistémica o “lá longe” não significa que não nos afecte, não é realmente longe apesar da ilusão da nossa perspectiva imediatista e superficial. Se recebemos os benefícios achamos mesmo que não recebemos as suas ondas de destruição e violência? No sistema maior em que nos inserimos, de influência mútua e complexa, o que é feito lá fora para ser transformado acolá, de forma a ser consumido aqui, tem reverberações em várias camadas. Influencia todo o sistema, destabilizando-o, consumindo-o até à exaustão.
Assim chegamos às propostas de progresso industrial e tecnológico, o projecto de extracção do lítio nas serras do interior norte de Portugal. Uma ideia baseada em pressupostos antigos e ultrapassados, em alegações de valor económico para o país, em estimativas de mais emprego e eventuais melhores condições de vida para quem ali habita.
Sim estas serras são valiosas, os seus minerais inestimáveis, a sua presença digna e poderosa. São valiosas pelas memórias que contém em cada pedra, são inestimáveis pela identidade e histórias que carregam, são poderosas pela diversidade de vida que sustêm.
A extração do seu corpo-terra-chão é a dilaceração das entranhas da sua dignidade. É a domesticação do seu poder. É, novamente, um movimento de subjugação da soberania local em função da economia global. A curto prazo quem vai ficar com a paisagem destruída? Quem vai sentir na pele a toxicidade da transformação química destes minerais? Quem perde identidade? A biodiversidade? A água pura? A terra nutridora? Não será com certeza o sistema económico especulativo e alheado, que se baseia num consistente plano de usurpação a todo o custo, sem olhar ou cuidar das comunidades ou lugares. Nesta dominante visão redutora é preciso alimentar a grande máquina e as voluptuosas necessidades de energia da cultura tecnológica em que vivemos. Porém, progresso que assente num autismo cego dos despojos de experiências passadas não progride, apenas mata tudo em seu redor. A todo o custo, com todo o investimento e todas as máquinas, esventramos, trespassamos e rebentamos todos os limites, ignorando todas as consequências dos nossos actos. Iludimo-nos com controle e produtividade. Destruímos. Devastamos os lugares da sua vida e valor intrínseco. Aniquilamos as comunidades que dele vivem e que dele cuidam. Demolimos e extinguimos.
Uma montanha, ou qualquer paisagem, não é apenas pedra ou minerais inertes. Perfurá-la é fragmentar a identidade desse lugar, do seu ecossistema, da sua biodiversidade, da sua continuidade. O impacto destes projectos modernos, pela rapidez e violência destrutiva com que são concretizados é imprevisível e insustentável. Para ter alguma ideia das reais repercussões basta ver ou ouvir as histórias de projectos de minas no mesmo local. O que sobrou? Aridez e toxicidade. Feridas na alma de quem o viveu. Que valor trouxe? A certeza da dureza de ser pobre e assim se manter. A certeza da fragilidade de um lugar antigo tornado indefensável perante as inexoráveis forças industriais modernas.
A dificuldade ou mesmo impossibilidade de regeneração, de que a vida volte renovada uma vez mais, gerando uma paisagem doente e envenenada. Lugares corrompidos e intoxicados pelas distorcidas e insustentáveis necessidades distantes.
Sustentar as comunidades locais, que vivem com o poder da serra dentro de si, não é dar-lhes empregos temporários baseados em números e estatísticas, fundamentados na destruição sistemática do seu lugar, na extração da sua identidade ou na fragmentação da sua dignidade. Apoiar as comunidades locais é apoiar a biodiversidade, alimentar os sistemas de vida, fornecer recursos para enfrentar o fogo e chamar a água, relembrar ferramentas para co-criar a paisagem de forma a que armazene carbono de novo, trazendo espécies resistentes que conheçam a linguagem do sítio. Trazer valor é trazer vida e diversidade. Trazer valor é um investimento a médio e longo prazo. É dar tempo aos lugares. Aos ciclos. À regeneração. É guardar em responsabilidade e paciência a frágil teia da vida que nos sustém.
Enquanto apenas olharmos para números ou necessidades imediatas não vemos, nem ouvimos. Isolamo-nos numa prisão de estatísticas e causalidade económica que retiram o real e essencial valor da vida.
Somos os lugares que habitamos. Trazem-nos histórias, presença e pertença. Caminhamos sobres eles, banhamo-nos nas suas águas, nutrimo-nos do seu alimento. A partir deles criamos e partilhamos memórias que sustêm a cultura e comunidade. Que dão chão a quem somos.
Se assim nos permitirmos conseguimos ver as feridas e fragmentos deixados pela necessidade voraz de consumo a curto prazo, a mesma que tenta suprimir vazios incomensuráveis. Vazios que na sua essência procuram significado e pertença. Pertencemos à vida e aos lugares que a sustentam. Todos saímos a ganhar ao alimentar regenerativamente estes lugares em vez de os destruir, extraindo a sua alma ou dilacerando a sua identidade.
©SofiaBatalha